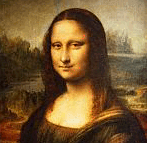Manuel da Fonseca O Largo
Antigamente, o Largo era o centro do mundo. Hoje, é apenas um cruzamento de estradas, com casas em volta e uma rua que sobe para a Vila. O vento dá nas faias e a ramaria farfalha num suave gemido, o pó redemoinha e cai sobre o chão deserto. Ninguém. A vida mudou-se para o outro lado da Vila.
O comboio matou o Largo. Sob o rumor do rodado de ferro morreram homens que eu supunha eternos. O senhor Palma Branco, alto, seco, rodeado de respeito. Os três irmãos Montenegro, espadaúdos e graves. Badina fraco e repontão. O Estróina, bêbado, trocando as pernas, de navalha em
punho. O Má Raça, rangendo os dentes, sempre enraivecido contra tudo e todos. O lavrador de Alba Grande, plantado ao meio do Largo com a sua serena valentia. Mestre Sobral. Ui Cotovio, rufião, de caracol sobre a testa. O Acácio, o bebedola do Acácio, tirando retratos, curvado debaixo do grande pano preto. E, lá ao cimo da rua, esgalgado, um homem que eu nunca soube quem era e que aparecia subitamente à esquina, olhando cheio de espanto para o Largo.
Nesse tempo, as faias agitavam-se, viçosas. Acenavam rudemente os braços e eram parte de todos os grandes acontecimentos. À sua sombra, os palhaços faziam habilidades e dançavam ursos selvagens. À sua sombra, batiam-se os valentes; junto do tronco de uma faia caiu morto António Valmorim, temido pelos homens e amado pelas mulheres.
Era o centro da Vila. Os viajantes apeavam-se da diligência e contavam novidades. Era através do Largo que o povo comunicava com o mundo. Também, à falta de notícias, era aí que se inventava alguma coisa que se parecesse com a verdade. O tempo passava, e essa qualquer coisa inventada vinha a ser a verdade. Nada a destruía: tinha vindo do Largo. Assim, o Largo era o centro do mundo.
Quem lá dominasse, dominava toda a Vila. Os mais inteligentes e sabedores desciam ao Largo e daí instruíam a Vila. Os valentes erguiam-se no meio do Largo e desafiavam a Vila, dobravam-na à sua vontade. Os bêbados riam-se da Vila, cambaleando, estavam-se nas tintas para todo o mundo, quem quisesse que se ralasse, queriam lá saber — cambaleavam e caíam de borco. Caíam ansiados de tristeza no pó branco do Largo. Era o lugar onde os homens se sentiam grandes em tudo que a vida dava, quer fosse a valentia, ou a inteligência, ou a tristeza.
Os senhores da Vila desciam ao Largo e falavam de igual para igual com os mestres alvanéis, os mestres-ferreiros. E até com os donos do comércio, com os camponeses, com os empregados da Câmara. Até, de igual para igual, com os malteses, os misteriosos e arrogantes vagabundos. Era aí o lugar dos homens, sem distinção de classes. Desses homens antigos que nunca se descobriam diante de ninguém e apenas tiravam o chapéu para deitar-se.
Também era lá a melhor escola das crianças. Aí aprendiam as artes ouvindo os mestres artífices, olhando os seus gestos graves. Ou aprendiam a ser valentes, ou bêbados, ou vagabundos. Aprendiam qualquer coisa e tudo era vida. O Largo estava cheio de vida, de valentias, de tragédias. Estava cheio de grandes rasgos de inteligência. E era certo que a criança que aprendesse tudo isto vinha a ser poeta e entristecia por não ficar sempre criança a aprender a vida — a grande e misteriosa vida do Largo.
A casa era para as mulheres.
No fundo das casas, escondidas da rua, elas penteavam as tranças, compridas como caudas de cavalos. Trabalhavam na sombra dos quintais, sob as parreiras. Faziam a comida e as camas — viviam apenas para os homens. E esperavam-nos, submissas.
Não podiam sair sozinhas à rua porque eram mulheres. Um homem da família acompanhava-as sempre. Iam visitar as amigas, e os homens deixavam-nas à porta e entravam numa loja que ficasse perto, à espera que saíssem para as levarem para casa. Iam à missa, e os homens não passavam do adro. Eles não entravam em casas onde fossem obrigados a tirar o chapéu. Eram homens que, de qualquer modo, dominavam no Largo.
Veio o comboio e mudou a Vila. As lojas encheram-se de utensílios que, antes, apenas se vendiam nos ferreiros e nos carpinteiros. O comércio desenvolveu-se, construiu-se uma fábrica. As oficinas faliram, os mestres-ferreiros desceram a operários, os alvanéis passaram a chamar-se
pedreiros e também se transformaram em operários. Apareceu a Guarda, substituiu os pachorrentos cabos de paz, e prendeu os valentes. As mulheres cortaram os cabelos, pintaram a boca e saem sozinhas. Os senhores tiram agora os chapéus uns aos outros, fazem grandes vénias e apertam-se as mãos a toda a hora. Vão à missa com as mulheres, passam as tardes no Clube, e já não descem ao Largo. Apenas os bêbados e os malteses se demoram por lá nas tardes de domingo.
Hoje, as notícias chegam no mesmo dia, vindas de todas as partes do mundo. Ouvem-se em todas as vendas e nos numerosos cafés que abriram na Vila. As telefonias gritam tudo que acontece à superfície da terra e das águas, no ar, no fundo das minas e dos oceanos. O mundo está em toda a parte, tornou-se pequeno e íntimo para todos. Alguma coisa que aconteça em qualquer região todos a sabem imediatamente, e pensam sobre ela e tomam partido. Ninguém já desconhece o que vai pelo mundo. E alguma coisa está acontecendo na terra, alguma coisa terrível e desejada está acontecendo em toda a parte. Ninguém fica de fora, todos estão interessados.
A Vila dividiu-se. Cada café tem a sua clientela própria, segundo a condição de vida. O Largo que era de todos, e onde apenas se sabia aquilo que a alguns interessava que se soubesse, morreu. Os homens separaram-se de acordo com os interesses e as necessidades. Ouvem as telefonias, lêem os jornais e discutem. E, cada dia mais, sentem que alguma coisa está acontecendo.
Também as crianças se dividiram: brincam em comum apenas as da mesma condição; param às portas dos cafés que os pais ou irmãos mais velhos frequentam. O Largo, agora, é todo o vasto mundo. É lá que estão os homens, as mulheres e as crianças. No outro Largo, só os bêbados e os madraços dos malteses — e aqueles que não querem acreditar que tudo mudou. O certo é que ninguém já liga importância a esta gente e a este Largo.
As grandes faias ainda marginam o Largo como antigamente e, à sua sombra, João Gadunha ainda teima em continuar a tradição. Mas nada é já como era. Todos o troçam e se afastam.
João Gadunha, o bêbado, fala de Lisboa, onde nunca foi. Tudo nele, os gestos e o modo solene de falar, é uma imitação mal pronta dos homens que ouviu quando novo.
— Grande cidade, Lisboa! — diz ele. — Aquilo é gente e mais gente, ruas cheias de pessoal, como numa feira!
Gadunha supõe que em Lisboa ainda há largos e homens como ele conheceu, ali, naquele Largo marginado pelas velhas faias. A sua voz ressoa, animada:
— Querem vocês saber? Uma tarde, estava eu no Largo do Rossio...
— No Largo do Rossio?
— Sim, rapaz! — afirma Gadunha erguendo a cabeça, cheio de importância. — Estava eu no Largo do
Rossio a ver o movimento. Vá de passar o pessoal para baixo, famílias para cima, um mundo de gente, e eu aver. Nisto, dou com um tipo a olhar-me de esguelha. Cá está um larápio, pensei eu. Ora se era!... Veio-se
chegando, assim como quem não quer a coisa, e meteu-me a mão por baixo da jaqueta. Mas eu já estava à
espera!... Salto para o lado e, zás, atiro-lhe uma punhada nos queixos: o tipo foi de gangão, bateu com a
cabeça num eucalipto e caiu sem sentidos!
Uma gargalhada acolhe as últimas palavras do Gadunha.
— Um eucalipto?
Apenas por um pormenor, estragou uma tão bela história. Fosse antigamente, todos ouviriam calados. Agora, sabem tudo e riem-se. Mas Gadunha teima. Diz que sim, que já esteve no Largo do Rossio, lá em Lisboa.
— Vocês já viram um largo sem eucaliptos, ou faias, ou outra árvore qualquer? — pergunta ele, desnorteado.
Todos se afastam, rindo.
João Gadunha fica sozinho e triste. Os olhos arrasam-se-lhe de água, a bebedeira dá-lhe para chorar. Agarra-se às faias, abraça-as, e fala-lhes carinhosamente. Aperta-as contra o peito, como se tentasse abarcar o passado. E as suas lágrimas molham o tronco carunchoso das faias.
Vai morrendo assim o Largo. Aos domingos, é ainda maior a dor do Largo moribundo. Vão todos para os cafés, para o cinema ou para o campo. O Largo fica deserto sob a ramaria das faias silenciosas.
É nesses dias, pelo fim da tarde, que o velho Ranito sai da venda rangendo os dentes. Outrora, foi mestre-artífice; era importante e respeitado. Hoje, é tão pobre e sem préstimo que nem sabe ao certo o número dos filhos. Apenas sabe embebedar-se. Pequeno e fraco, o vinho transforma-o. Entesa-se, ergue o cacete e, sem dobrar os joelhos, apenas com um golpe de pés, pula para o ar e dá três cacetadas no pó do Largo antes de tocar de novo com os pés no chão. Ergue a cabeça e grita, estonteado:
— Se há aí algum valente, que salte para aqui!
Mas já não há nenhum valente no Largo, já não há ninguém no Largo. Ranito olha em volta com o olha espantado.
A vista turva-se-lhe, range os dentes:
— Ah vida, vida!...
Volteia o cacete sobre a cabeça. Vai de roda, feroz, pelo Largo ermo de vida, atirando cacetadas contra o chão. Vai, de cinta solta rojando, ágil e ridículo, a desafiar homens que já morreram.
Até que se cansa naquela luta desigual. O cacete despega-se-lhe das mãos e ele fica lasso, desequilibrado. Aos tropeções, pende para a frente e cai, tem que cair, o Largo já morreu, ele não quer, mas tem de cair. Pesado de bebedeira e de desgraça, cai vencido.
Uma nuvem de poeira ergue-se; depois, tomba vagarosa e triste. Tomba sobre o Ranito esfarrapado e tapa-o.
Ele já não pode ver que o Largo é o mundo fora daquele círculo de faias ressequidas. Esse vasto mundo onde qualquer coisa, terrível e desejada, está acontecendo.
(in O Fogo e as Cinzas, Editorial Caminho)
Quem é você, Sou caim, sou o anjo que salvou a vida a isaac. Não, não era certo, caim não é nenhum anjo, anjo é este que acabou de pousar com um grande ruído de asas e que começou a declamar como um actor que tivesse ouvido finalmente a sua deixa, Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal, pois já vejo que és obediente ao senhor, disposto, por amor dele, a não poupar nem sequer o teu filho único, Chegas tarde, disse caim, se isaac não está morto foi porque eu o impedi. O anjo fez cara de contrição, Sinto muito ter chegado atrasado, mas a culpa não foi minha, quando vinha para cá surgiu-me um problema mecânico na asa direita, não sincronizava com a esquerda, o resultado foram contínuas mudanças de rumo que me desorientavam, na verdade vi-me em papos-de-aranha para chegar aqui, ainda por cima não me tinham explicado bem qual destes montes era o lugar do sacrifício, se cá cheguei foi por um milagre do senhor, Tarde, disse caim, mais vale tarde que nunca, respondeu o anjo com prosápia, como se tivesse acabado de enunciar uma verdade primeira.
Abaixo as Equações! Viva o Jogo da Barra!
A mim foi um professor de matemática quem me estragou a infância.
Era um senhor alto, ventrudo, glabro, de lunetas cínicas e feições gelidamente irónicas que olhava para nós como para feras de bibe e calção, capazes de, ao mínimo descuido do domesticador, saltarem para o estrado, comerem-no vivo, roubarem-lhe a caderneta, partirem-lhe o ponteiro na calva e escreverem no quadro, a giz, a divisa libertadora: « Abaixo as equações! Viva o jogo da barra!»
Para nos conter em respeito, todos os dias marcava zeros à classe em peso. E quando algum aluno mais palidamente resoluto lhe respondia com assanho, não se enxofrava nem se enfurecia. Pelo contrário, as lunetas luziam-lhe mais cínicas. E, pingante de tranquilidade cruel, pegava num ponteiro e entretinha-se a vergastar o pobre rapaz nos dedos, nos braços, na cabeça, ao mesmo tempo que o supliciava com a sua voz fria.
Foi esse senhor quem me estragou a infância, repito, impedindo-me de saborear os 14 anos possíveis de paraíso na terra. As suas lunetas a sua voz cortante, o seu riso agreste, não me permitiam respirar em liberdade a alegria de possuir pulmões.
A matemática, em vez de dar ordem e harmonia à minha pequena alma dócil, enegrecia-a de raiva e de indisciplina.
Vivia aflito, humilhado, com uma pedra no peito; olhava para o sol como se fosse uma chaga.
E, ao invés das crianças de todo o mundo que folgam pelo menos uma hora por dia ao ar livre no pátio dos recreios, a admirarem o sol, as nuvens, as árvores, como brinquedos maravilhosos, eu e os meus camaradas de colégio sofríamos a nossa hora diária de penumbra magoada, as nossas férias de tortura, naquela saleta negra, bafienta, com as carteiras riscadas a canivete e um senhor cínico, de ponteiro em punho, a domesticar a nossa palidez de haver matemática.
O Mundo dos Outros, José Gomes Ferreira
Os retratos a óleo fascinam-me. E ao mesmo tempo assustam-me. Sempre tive medo que as pessoas saíssem das molduras e começassem a passear pela casa. Para falar verdade, estou convencido que isso aconteceu algumas vezes. Em certas noites, quando eu era pequeno, ouvia passos abafados e tinha a sensação de que a casa ficava subitamente cheia de presenças. Ainda hoje não gosto de atravessar os longos corredores das velhas casas com grandes retratos pendurados nas paredes. Há olhos que nos seguem do alto e nunca se sabe o que de repente pode acontecer.
Mas havia um mistério. Ninguém me dizia quem era a senhora do retrato. Arminda, a criada velha, benzia-se quando passava diante do quadro. Às vezes fazia figas e estranhos sinais de esconjuração. A prima Luísa passava sem olhar.
Um dia, farto já de tanto mistério e ralhete e, sobretudo, das gaifonas da Arminda e do ar empertigado da prima Luísa, não me contive e perguntei-lhe. ..
Manuel Alegre, O Homem do País Azul.
O pai queria fazer dele um homem. Por isso, mal o pequeno acabou a 4.ª classe em Pedornelo, Guimarães com ele!
Mas não havia padre Macário capaz de endireitar semelhante criatura. Nem a puxões de orelhas e a golpes de régua se conseguia evitar que o rapaz saltasse a toda a hora pelas janelas do colégio e desaparecesse pelas serras a cabo, aos grilos. Trazia já o vício da terra; mas, com a idade, em vez de a coisa melhorar, piorava.
De palha na mão, era vê-lo à torreira do sol. Metia a sonda em cada agulheiro que encontrava, punha-se a esgravatar, a esgravatar, e o pobre do habitante do buraco não tinha outro remédio senão vir à tona.
Só quando o estômago dava horas das grandes regressava a casa com vinte ou trinta bichos daqueles. O reitor mandava-o ir ao gabinete, punha-lhe a cara num pimentão, mas de pouco valia. No dia seguinte, lá fugia ele outra vez.
Tinha o quarto transformado em viveiro. Em vez de retratos de actrizes e de cowboys, gaiolas de todos os tamanhos dependuradas nas paredes, com folhas de alface e de serradela metidas nas grades. E era num tal cenário que o prefeito o encontrava - quando o encontrava -, abstracto, alheado, fora do mundo.
- A lição?
- Estou a estudá-la...
Na aula a seguir é que a coisa se via: um estenderete!
Contudo, como inexplicavelmente na cadeira do Dr. Rodrigues só tirava vintes, e o professor gozava de grande prestígio entre os colegas, ano sim, ano não, lá passava. A nota de Zoologia podia muito. E os outros mestres, apertados, davam o 10 e desabafavam:
- Vá lá... Como sabe tanto de grilos...
. No fim do curso do liceu, Coimbra. Para médico. O pai sonhava com ele em Pedornelo a curar maleitas.
Mas quando, ao cabo de seis anos, o velho julgava que tinha ali o Paracelso dos Paracelsos, a folha corrida do rapaz registava apenas uma enigmática distinção em ciências naturais e reprovações no resto.
Deus não quis, todavia, matar o santo homem com a punhalada duma desilusão. Nas vésperas de o cábula regressar, mandou-lhe piedosamente uma broncopneumonia, que o levou desta para melhor, juntamente com as esperanças que depositara no filho.
E foi assim, herdeiro das ricas terras do pai, e com a Arca de Noé sabida de cabo a rabo, que o Sr. Nicolau voltou definitivamente a Pedornelo.
Andava então pelos trinta anos. Alto, seco, pálido, delicado, veio pôr na veiga e nos montes da terra uma nota que até ali não havia: a mancha lírica dum cidadão de guarda-sol branco a caçar bicharocos.
- O Sr. Nicolau passou bem?
- Bem, muito obrigado, tio Armindo...
E abaixava-se a agarrar uma louva-a-deus. Tirava um frasco do bolso, pegava na infeliz com mil cuidados, não lhe fosse quebrar um braço, e bojo do vidro com ela.
A princípio, todos arregalaram os olhos, num justo e desconfiado espanto. No que dera o filho do Sr. Adriano Gomes! Mas apenas lhes arrendou, por umas cascas de alho, os bens de que passara a ser dono, e o viram contente com a transacção, mudaram de ideias e puseram-se a vender-lhe quantos insectos havia nas redondezas. Bastava chegar ao pé dele e mostrar-lhe uma joaninha, para que a comprasse logo por um tostão. De modo que semelhante maluqueira era uma mina, vista por qualquer lado.
Só o mestre-escola, o velho Sr. Anselmo, que já na instrução primária se vira e desejara para meter naquela cabeça tonta as contas de multiplicar, se mostrava renitente na aceitação de tão grande desgraça. E, quando acabou por dar o braço a torcer, foi desta maneira:
- Enfim, do mal o menos. Se lhe dá para coleccionar burros, tínhamos a aldeia transformada numa estrebaria...
Mas o Sr. Nicolau resistia a tudo. Às ironias do antigo professor e ao egoísmo do povo. E, mal o sol apontava na serra de Alijó, lá ia ele pelos restolhos fora.
Vivia sozinho. Além da Gertrudes, que vinha de vez em quando lavar-lhe a roupa e fazer-lhe um caldo, ninguém mais lhe entrava em casa, a não ser pelo S. Miguel, na altura do pagamento das rendas. Viam-no então no escritório, entre grandes armários, onde, desde as pulgas às carochas, dormiam o sono eterno quantos seres a sua paciência e os seus vinténs conseguiram agarrar em Pedernelo e cercanias.
Tinha-os em caixas de papelão, aos centos, em fila, catalogados e suspensos num alfinete que lhes entrava nas costas e saía na barriga. Havia-os de todos os tamanhos e de todas as cores possíveis. Grandes, pequenos, pequeninos, amarelos, brancos, pretos, azuis, vermelhos, um ou dois de cada qualidade e de quantas qualidades fora capaz a imaginação divina.
Calmamente, amorosamente, à medida que o tempo andava, crescia o cemitério. E, calmamente, o coveiro, o Sr. Nicolau, ia envelhecendo entre os mortos.
O seu mundo fechara-se ali, concêntrico, sem horizontes, murado pelas estantes envidraçadas, onde o sonho se conservava em naftalina. As nações desabavam, sucediam-se guerras, a própria aldeia oscilava nos gonzos. Mas o senhor Nicolau, alheio às paixões humanas, continuava a povoar os dias de libélulas e borboletas.
A certa altura, o boateiro do Fagundes lançou a atoarda do próximo casamento do lunático.
- E com quem? - perguntou o professor, carregado de inocência.
Mas como ninguém lhe soube dizer o nome da noiva, rematou ele:
- Talvez com alguma lesma... E bem é. Fica tudo em família. . A balela foi por assim dizer o derradeiro sinal que Pedornelo deu de que não se esquecera inteiramente da vida social do Sr. Nicolau. Porque, apenas o mestre disse a ironia, e todos acabaram de se rir à vontade, o desgraçado saiu da lembrança da povoação. Logo a seguir, quando passavam, ou já nem o cumprimentavam, ou lhe davam os bons-dias com o mesmo automatismo com que tiravam o chapéu, às Trindades. Nem que ele atravessasse o largo com uma ruga funda e desesperada na testa, se lembravam de o lamentar. O nome do amalucado, agora, significava o mesmo que carrapato, ralo, formiga ou coisa assim.
Era um bicho. Um inofensivo bicho, igual aos milhares que tinha no escritório embalsamados.
Às vezes, a ruga tinha profundidade. Minava-o um desgosto tão verdadeiro como o de qualquer vizinho aflito com os estragos de uma trovoada. Mas cinquenta anos de alheamento colectivo tiravam-lhe o direito de ser compreendido por homens. Quem podia admitir que fossem motivo de desespero a tenaz quebrada dum besoiro ou qualquer sinal de traça numa bicha-cadela?! A sensibilidade de Pedornelo não reagia aos estímulos de tão subtis calamidades. Ali, a respeito de sofrimento, entender, só fome, febres e facadas.
Quis finalmente o Dr. Saul olhar aquele ser como habitante da terra e criatura de Deus. Chamado à pressa pela Gertrudes, que fora encontrar o velho encolhido como um feto no sofá do escritório, veio, auscultou, tomou o pulso, pôs o termómetro, e resolveu por fim entrar pelo corpo dentro do moribundo com uma agulha que lhe enterrou na espinha.
Mas o sr. Nicolau, agora, estava de todo integrado no destino dos seus companheiros. Delirava. Sentiu vagamente a dor na coluna, lembrou-se do que tinha feito aos milhares de irmãos, e pensou:
- Má técnica... Era éter acético primeiro, e só então... Oxalá não se esqueça ele ao menos de escrever no rótulo, correctamente, o meu nome em latim...
E daí a nada, depois da última contracção, sereno e de olhos fechados, ali ficou quieto e feliz, à espera que o metessem na sua caixa.
Miguel Torga, Os Bichos
A mim foi um professor de matemática quem me estragou a infância.
Era um senhor alto, ventrudo, glabro, de lunetas cínicas e feições gelidamente irónicas que olhava para nós como para feras de bibe e calção, capazes de, ao mínimo descuido do domesticador, saltarem para o estrado, comerem-no vivo, roubarem-lhe a caderneta, partirem-lhe o ponteiro na calva e escreverem no quadro, a giz, a divisa libertadora: « Abaixo as equações! Viva o jogo da barra!»
Para nos conter em respeito, todos os dias marcava zeros à classe em peso. E quando algum aluno mais palidamente resoluto lhe respondia com assanho, não se enxofrava nem se enfurecia. Pelo contrário, as lunetas luziam-lhe mais cínicas. E, pingante de tranquilidade cruel, pegava num ponteiro e entretinha-se a vergastar o pobre rapaz nos dedos, nos braços, na cabeça, ao mesmo tempo que o supliciava com a sua voz fria.
Foi esse senhor quem me estragou a infância, repito, impedindo-me de saborear os 14 anos possíveis de paraíso na terra. As suas lunetas a sua voz cortante, o seu riso agreste, não me permitiam respirar em liberdade a alegria de possuir pulmões.
A matemática, em vez de dar ordem e harmonia à minha pequena alma dócil, enegrecia-a de raiva e de indisciplina.
Vivia aflito, humilhado, com uma pedra no peito; olhava para o sol como se fosse uma chaga.
E, ao invés das crianças de todo o mundo que folgam pelo menos uma hora por dia ao ar livre no pátio dos recreios, a admirarem o sol, as nuvens, as árvores, como brinquedos maravilhosos, eu e os meus camaradas de colégio sofríamos a nossa hora diária de penumbra magoada, as nossas férias de tortura, naquela saleta negra, bafienta, com as carteiras riscadas a canivete e um senhor cínico, de ponteiro em punho, a domesticar a nossa palidez de haver matemática.
O Mundo dos Outros, José Gomes Ferreira
No exame do segundo grau fiquei distinto; o Abílio ficou suficiente. Uma tristeza! Compareceu de calça comprida, colete branco, a châtelaine de D.ª Claudina fazendo de corrente de relógio. Como roía nas unhas, o relógio era um descanso para encher o minuto de ignorância, atrapalhado com aquilo de - «Qual foi o rei que mandou plantar o pinhal de Leiria?».O Sr. Fontes, o professor das Cinco, que era membro do júri, bem cochichava de lá: -D. Dinis... D. Dinis!...» O Abílio, porém, doido por toiros, saíra-se com «D. Afonso IV, o Bravo» - e teve a raposa por um triz.Cá fora, esperavam-nos meu Pai e o dele ao lado do Sr. Professor.O mestre não me disse nem palavra; mas a ele não o largou:- Este cabeça de boga, que me vai estragar os resultados!O pai do Abílio estava com vergonha do filho, com raiva ao filho, com raiva ao Sr. Professor, com pena de si, do Sr. Professor e do filho:- Pedaço de mariola! (Olha como tens esse colarinho!). E fazer-me gastar um dinheirão, para ver isto!- Este cabeça de boga, pôr-me uma nódoa na pauta! - teimava o Sr. Professor.O pai do Abílio agachara-se um pouco para lhe limpar as lágrimas, mas carregava no lenço e obrigava-o a assoar-se sem precisão nenhuma:- Força!... O toleirão, que era o primeiro em decimais! (Ó pequeno, não chores, que o Sr. Professor manda na escola, e em ti quem manda sou eu!)Mas o Abílio chorava mordido e com os olhos raiados de sangue. Quando proclamaram os resultados, o Sr. Professor abrandou.
- Abílio Cardoso de Aguiar, suficiente. Mateus Queimado Gomes de Meneses, óptimo.Meu Pai deu um beijo no Abílio antes de me beijar a mim. O pai do Abílio apertou solenemente a mão a meu Pai:- Ah, Sr. Meneses! Que consolação, um filho assim!Estávamos todos mais ou menos vexados; só o Abílio deixou de chorar. Não se sabia bem se por escapar à raposa, se por qualquer outra coisa. Num ímpeto de todo o seu ser atirou-me os braços e disse-me:- Ó Mateus, ainda bem!E foi nos olhos dele que eu me senti distinto...
VITORINO NEMÉSIO
 De sacola e bordão, o velho Garrinchas fazia os possíveis por se aproximar da terra. A necessidade levara-o longe de mais. Pedir é um triste ofício. E ali vinha de mais uma dessas romarias, bem escusadas se o mundo fosse doutra maneira. Muito embora trouxesse dez réis no bolso e o bornal cheio, o certo é que já lhe custava a arrastar as pernas. Derreadinho! Podia, realmente, ter ficado em Loivos. Dormia e, no dia seguinte, de manhãzinha, punha-se a caminho. Mas quê! Metera-se-lhe em cabeça consoar à manjedoira nativa... E caía o algodão em rama! Caía, sim senhor! Bonito! Felizmente que a Senhora dos Prazeres ficava perto. Apressou mais o passo, fez ouvidos de mercador à fadiga, e foi rompendo a chuva de pétalas. Com patorras de elefante e branco como um moleiro, ao cabo de meia hora de caminho chegou ao adro da ermida. À volta não se enxergava um palmo sequer de chão descoberto. Calados, os penedos lembravam penitentes. O problema estava em chegar lá. O raio da serra nunca mais acabava, e sentia-se cansado. Setenta e cinco anos, parecendo que não, são um carrego. Não havia que ver: nem pensar noutro pouso. E dar graças! (...)
Novos Contos da Montanha, Miguel Torga
De sacola e bordão, o velho Garrinchas fazia os possíveis por se aproximar da terra. A necessidade levara-o longe de mais. Pedir é um triste ofício. E ali vinha de mais uma dessas romarias, bem escusadas se o mundo fosse doutra maneira. Muito embora trouxesse dez réis no bolso e o bornal cheio, o certo é que já lhe custava a arrastar as pernas. Derreadinho! Podia, realmente, ter ficado em Loivos. Dormia e, no dia seguinte, de manhãzinha, punha-se a caminho. Mas quê! Metera-se-lhe em cabeça consoar à manjedoira nativa... E caía o algodão em rama! Caía, sim senhor! Bonito! Felizmente que a Senhora dos Prazeres ficava perto. Apressou mais o passo, fez ouvidos de mercador à fadiga, e foi rompendo a chuva de pétalas. Com patorras de elefante e branco como um moleiro, ao cabo de meia hora de caminho chegou ao adro da ermida. À volta não se enxergava um palmo sequer de chão descoberto. Calados, os penedos lembravam penitentes. O problema estava em chegar lá. O raio da serra nunca mais acabava, e sentia-se cansado. Setenta e cinco anos, parecendo que não, são um carrego. Não havia que ver: nem pensar noutro pouso. E dar graças! (...)
Novos Contos da Montanha, Miguel Torga
A mim foi um professor de matemática quem me estragou a infância.
Era um senhor alto, ventrudo, glabro, de lunetas cínicas e feições gelidamente irónicas que olhava para nós como para feras de bibe e calção, capazes de, ao mínimo descuido do domesticador, saltarem para o estrado, comerem-no vivo, roubarem-lhe a caderneta, partirem-lhe o ponteiro na calva e escreverem no quadro, a giz, a divisa libertadora: « Abaixo as equações! Viva o jogo da barra!»
Para nos conter em respeito, todos os dias marcava zeros à classe em peso. E quando algum aluno mais palidamente resoluto lhe respondia com assanho, não se enxofrava nem se enfurecia. Pelo contrário, as lunetas luziam-lhe mais cínicas. E, pingante de tranquilidade cruel, pegava num ponteiro e entretinha-se a vergastar o pobre rapaz nos dedos, nos braços, na cabeça, ao mesmo tempo que o supliciava com a sua voz fria.
Foi esse senhor quem me estragou a infância, repito, impedindo-me de saborear os 14 anos possíveis de paraíso na terra. As suas lunetas a sua voz cortante, o seu riso agreste, não me permitiam respirar em liberdade a alegria de possuir pulmões.
A matemática, em vez de dar ordem e harmonia à minha pequena alma dócil, enegrecia-a de raiva e de indisciplina.
Vivia aflito, humilhado, com uma pedra no peito; olhava para o sol como se fosse uma chaga.
E, ao invés das crianças de todo o mundo que folgam pelo menos uma hora por dia ao ar livre no pátio dos recreios, a admirarem o sol, as nuvens, as árvores, como brinquedos maravilhosos, eu e os meus camaradas de colégio sofríamos a nossa hora diária de penumbra magoada, as nossas férias de tortura, naquela saleta negra, bafienta, com as carteiras riscadas a canivete e um senhor cínico, de ponteiro em punho, a domesticar a nossa palidez de haver matemática.
O Mundo dos Outros, José Gomes Ferreira
No exame do segundo grau fiquei distinto; o Abílio ficou suficiente. Uma tristeza! Compareceu de calça comprida, colete branco, a châtelaine de D.ª Claudina fazendo de corrente de relógio. Como roía nas unhas, o relógio era um descanso para encher o minuto de ignorância, atrapalhado com aquilo de - «Qual foi o rei que mandou plantar o pinhal de Leiria?».O Sr. Fontes, o professor das Cinco, que era membro do júri, bem cochichava de lá: -D. Dinis... D. Dinis!...» O Abílio, porém, doido por toiros, saíra-se com «D. Afonso IV, o Bravo» - e teve a raposa por um triz.Cá fora, esperavam-nos meu Pai e o dele ao lado do Sr. Professor.O mestre não me disse nem palavra; mas a ele não o largou:- Este cabeça de boga, que me vai estragar os resultados!O pai do Abílio estava com vergonha do filho, com raiva ao filho, com raiva ao Sr. Professor, com pena de si, do Sr. Professor e do filho:- Pedaço de mariola! (Olha como tens esse colarinho!). E fazer-me gastar um dinheirão, para ver isto!- Este cabeça de boga, pôr-me uma nódoa na pauta! - teimava o Sr. Professor.O pai do Abílio agachara-se um pouco para lhe limpar as lágrimas, mas carregava no lenço e obrigava-o a assoar-se sem precisão nenhuma:- Força!... O toleirão, que era o primeiro em decimais! (Ó pequeno, não chores, que o Sr. Professor manda na escola, e em ti quem manda sou eu!)Mas o Abílio chorava mordido e com os olhos raiados de sangue. Quando proclamaram os resultados, o Sr. Professor abrandou.
- Abílio Cardoso de Aguiar, suficiente. Mateus Queimado Gomes de Meneses, óptimo.Meu Pai deu um beijo no Abílio antes de me beijar a mim. O pai do Abílio apertou solenemente a mão a meu Pai:- Ah, Sr. Meneses! Que consolação, um filho assim!Estávamos todos mais ou menos vexados; só o Abílio deixou de chorar. Não se sabia bem se por escapar à raposa, se por qualquer outra coisa. Num ímpeto de todo o seu ser atirou-me os braços e disse-me:- Ó Mateus, ainda bem!E foi nos olhos dele que eu me senti distinto...
VITORINO NEMÉSIO
 De sacola e bordão, o velho Garrinchas fazia os possíveis por se aproximar da terra. A necessidade levara-o longe de mais. Pedir é um triste ofício. E ali vinha de mais uma dessas romarias, bem escusadas se o mundo fosse doutra maneira. Muito embora trouxesse dez réis no bolso e o bornal cheio, o certo é que já lhe custava a arrastar as pernas. Derreadinho! Podia, realmente, ter ficado em Loivos. Dormia e, no dia seguinte, de manhãzinha, punha-se a caminho. Mas quê! Metera-se-lhe em cabeça consoar à manjedoira nativa... E caía o algodão em rama! Caía, sim senhor! Bonito! Felizmente que a Senhora dos Prazeres ficava perto. Apressou mais o passo, fez ouvidos de mercador à fadiga, e foi rompendo a chuva de pétalas. Com patorras de elefante e branco como um moleiro, ao cabo de meia hora de caminho chegou ao adro da ermida. À volta não se enxergava um palmo sequer de chão descoberto. Calados, os penedos lembravam penitentes. O problema estava em chegar lá. O raio da serra nunca mais acabava, e sentia-se cansado. Setenta e cinco anos, parecendo que não, são um carrego. Não havia que ver: nem pensar noutro pouso. E dar graças! (...)
De sacola e bordão, o velho Garrinchas fazia os possíveis por se aproximar da terra. A necessidade levara-o longe de mais. Pedir é um triste ofício. E ali vinha de mais uma dessas romarias, bem escusadas se o mundo fosse doutra maneira. Muito embora trouxesse dez réis no bolso e o bornal cheio, o certo é que já lhe custava a arrastar as pernas. Derreadinho! Podia, realmente, ter ficado em Loivos. Dormia e, no dia seguinte, de manhãzinha, punha-se a caminho. Mas quê! Metera-se-lhe em cabeça consoar à manjedoira nativa... E caía o algodão em rama! Caía, sim senhor! Bonito! Felizmente que a Senhora dos Prazeres ficava perto. Apressou mais o passo, fez ouvidos de mercador à fadiga, e foi rompendo a chuva de pétalas. Com patorras de elefante e branco como um moleiro, ao cabo de meia hora de caminho chegou ao adro da ermida. À volta não se enxergava um palmo sequer de chão descoberto. Calados, os penedos lembravam penitentes. O problema estava em chegar lá. O raio da serra nunca mais acabava, e sentia-se cansado. Setenta e cinco anos, parecendo que não, são um carrego. Não havia que ver: nem pensar noutro pouso. E dar graças! (...)